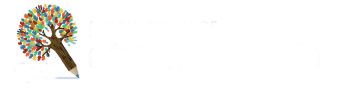Por Maria Regina Maluf
Para alguns, a “guerra dos métodos de alfabetização” já acabou. Fônico ou global? Mas no Brasil ela parece estar apenas começando. Os dados das avaliações mais recentes continuam a revelar resultados sofríveis, considere-se a Avaliação Nacional da Alfabetização (2016), os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (2017) ou os dados do Instituto Paulo Montenegro (Inaf, 2018). Se os resultados das avaliações da aprendizagem da leitura e da escrita – aprendizagem que é condição primeira para continuar aprendendo no âmbito do sistema educacional – são tão pífios, então algo deve estar errado, ou pelo menos alguma disfunção pode ser encontrada em alguma etapa do processo de alfabetização: as crianças brasileiras não estão aprendendo a ler porque são incapazes; não aprendem porque chegam às escolas vindo de famílias em situação de vulnerabilidade; não aprendem porque não estão sendo ensinadas a contento.
Consideremos esta terceira alternativa, a única que se baseia em evidências de pesquisas provenientes de estudos científicos que já nos permitem entender a natureza do objeto a ser ensinado: o nosso sistema alfabético de escrita, uma das maiores invenções históricas da humanidade, que superou outras formas anteriores de escrita porque criou um modo de grafar os sons da fala. Como fica bem claro para os que analisam esta questão, grafar os sons da fala usando sinais – as letras – é uma habilidade relativamente simples que pode ser ensinada a todos.
Por isso a escrita alfabética se disseminou muito mais do que as formas anteriores de escrita. Ao invés de memorizar milhares de caracteres para poder ler e escrever, tornou-se possível utilizar, no alfabeto latino, um pouco mais de duas dezenas de sinais gráficos para poder ler e escrever tudo aquilo que pode ser falado. E tornou-se possível ensinar a todos o uso do princípio alfabético, segundo o qual formas gráficas representam segmentos fonêmicos da fala, de tal modo que os fonemas que ocorrem na fala podem ser representados por letras específicas, levando-se em conta o código ortográfico.
Com a consolidação de estados democráticos no mundo, sobretudo no ocidente e depois das duas guerras mundiais, essas organizações sociais e políticas aplicaram-se a garantir a toda sua população o ensino das habilidades de ler e de escrever. Mas, como fazer isso de modo eficiente, rápido, econômico, frente ao reconhecimento da existência de diferentes práticas possíveis?
A partir dos anos 1960 multiplicaram-se, nos países mais desenvolvidos, as análises sistemáticas dos resultados de diferentes práticas de ensino. Hipóteses explicativas diversas se confrontaram: a aprendizagem da leitura se instala a partir das unidades fônicas que são ensinadas ou ela acontece globalmente e por descoberta? No decorrer dessas discussões, chamadas de guerra dos métodos, reconheceu-se que ler e escrever tem uma fundamental dimensão política: como governar cidadãos que não leem e não escrevem? A quem interessa ensiná-los a ler?
Nessa perspectiva modelou-se uma clara diferença entre as organizações sociais autoritárias e as participativas. Logo percebeu-se que não era suficiente abrir escolas e garantir o acesso a elas: era preciso mostrar eficácia e eficiência e enfrentar perguntas como: por que alguns aprendem e outros não aprendem? Em se tratando da leitura, somente alguns ou todos são capazes de aprender? As evidências científicas das neurociências mostram que o cérebro humano é capaz de aprender a ler, mas não da mesma forma que aprende a falar. Aprender a ler é decodificar sons grafados por meio de sinais; esses sinais são as letras que representam sons.
Imagens cerebrais permitem verificar que algo específico acontece no cérebro quando ele é ativado pela sequência de letras das palavras, e produz compreensão em conexão com outras capacidades cognitivas. Se o alfabeto é um conjunto de letras inventadas para representar os sons que constituem a fala, todos os modos de ensiná-lo são iguais? Usando uma analogia: se todos os caminhos levam ao mesmo lugar, todos são igualmente bons, mesmo que alguns se mostrem longos, difíceis ou tortuosos?
Diferentes crenças, preferências, princípios e tipos de conhecimento se confrontam, e em todos os casos será preciso escolher. Escolher o conhecimento científico baseado em evidência é uma prática que informa os sistemas educacionais de muitos países que optaram pela equidade na criação de condições de alfabetização para todos. O conhecimento que vem sendo gerado pela ciência da leitura demonstra que o jeito mais eficiente de alfabetizar é ensinar a representar o que falamos, mediante o mapeamento entre grafemas e seus respectivos fonemas, por ser esse o caminho mais curto e mais vantajoso para se chegar à leitura e à escrita fluentes.
A compreensão da leitura de textos é o ponto de chegada desse aprendizado e não seu ponto de partida. Compreender a fala precede a compreensão da leitura. Só podemos compreender o que lemos se compreendemos o que ouvimos e ademais decodificamos os sinais visuais combinados de modo a constituir palavras, separadas entre si por um espaço em branco. Aprender a falar é algo que acontece naturalmente, à condição de que o bebê humano conviva com falantes. Aprender a ler é uma habilidade que todos podem adquirir, desde que em seu ambiente de vida existam pessoas que tenham aprendido a usar o sistema alfabético de acordo com as regras de combinação do seu idioma falado e que estejam dispostas a ensinar. Então, se todos os métodos – os caminhos – são possíveis, levam enorme vantagem aqueles que escolhem os métodos que passam pelo conhecimento da natureza do objeto a ser ensinado: o sistema alfabético de escrita.
As pesquisas, no Brasil e no exterior, são generosas na demonstração das vantagens da instrução fônica, quando comparam as crianças que receberam ensino sistemático e estruturado baseado na fônica com as crianças submetidas a práticas – equivocadamente chamadas de construtivistas – segundo as quais devem descobrir por si mesmas o que está escrito e levantar hipóteses sobre como escrever, sob o olhar atento de um professor que acredita que não lhe cabe ensinar.
Essas pesquisas recentes descrevem as práticas que dão melhores resultados e apresentam as hipóteses mais plausíveis para explicá-las, e essas práticas claramente respondem aos requisitos da instrução fônica. Experimentos que utilizam técnicas que mostram o funcionamento cerebral em atividades de leitura e as mudanças no cérebro de quem aprende a ler, apresentam evidências que levam alguns a concluir que a guerra dos métodos acabou, embora outros prefiram continuar a defender hipóteses frágeis e sem evidências vigorosas, a respeito dos melhores caminhos para a alfabetização.
Nos meios educacionais brasileiros ainda predominam crenças segundo as quais as pessoas descobririam a leitura e aprenderiam a ler manejando textos. Tais crenças estão sendo confrontadas com os maus resultados na aprendizagem de nossas crianças (e mesmo dos jovens e adultos que frequentam classes ineficientes para ensiná-los). A comunidade científica brasileira já apresenta um rico acervo de pesquisas sobre a instrução fônica na alfabetização. Essas pesquisas demonstram que essa é a forma de ensinar a ler que apresenta melhores resultados. É a que vem sendo adotada nos países que revelam os melhores resultados nas suas avaliações nacionais e nas internacionais, como por exemplo Portugal, Inglaterra, Finlândia, alguns estados dos Estados Unidos da América do Norte, Austrália, Canadá e outros. Não se trata portanto de método único, mas sim de método: um caminho para ensinar a partir do conhecimento do modo como nosso cérebro aprende a ler e consequentemente do modo como o ensino pode ser mais eficaz.